 |
Roberto Marinho na foto da capa do livro promocional assinado por seu empregado Pedro Bial.
|
Ainda que não tivesse sido esse o objetivo de sua autobiografia, na
qual relatou há 19 anos a incrível trajetória que o transformara no
todo-poderoso senhor, por mais de uma década, da quarta rede comercial
de televisão do mundo, Walter Clark acabou por oferecer no livro – O campeão de audiência,
que teve o jornalista Gabriel Priolli como coautor, Editora Best
Seller, 1991 – uma contribuição importante para a compreensão das
relações muito especiais entre a TV Globo e o regime militar à sombra do
qual floresceu. Além de rejeitar a conhecida imagem da emissora como
uma espécie de porta-voz do “Brasil Grande” do ditador Médici, ele
garantia nunca ter visto Roberto Marinho “se humilhar diante de quem
quer que fosse, milico ou não, presidente da República ou não. Ao
contrário, é uma altivez que fica sempre no limite da arrogância”.
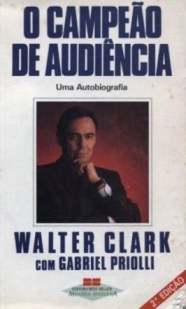 Clark
referia-se à suposta independência do dono da Globo por “manter em
torno de si homens de esquerda em cargos importantes” (citava Franklin
de Oliveira, Evandro Carlos de Andrade e Henrique Caban), inclusive
depois que o SNI ampliou a pressão contra os dois últimos, com acusações
contidas numa fita de vídeo que o dono da Globo fora convocado a
assistir em companhia de Clark e Armando Nogueira. Explicitamente,
admitia apenas que o regime “incomodava” a Globo, que enfrentou “o mesmo
gosto amargo da censura, das intimidações, das impossibilidades que
todo mundo sentiu: imprensa, rádio, televisão, as artes, a universidade,
a cultura”. Claramente na defensiva, o autor mostrava-se ressentido
com os que o culpavam – na própria Globo e mais até do que Marinho –
pela submissão ao regime militar. Mas ao passar das opiniões subjetivas
aos fatos concretos, acabava por confirmar o que pretendia desmentir: a
docilidade das tevês (em particular a sua), em parte resultante do
caráter precário das concessões de canais pelo governo, tinha uma longa
história e já o atropelara antes, na TV Rio.
Clark
referia-se à suposta independência do dono da Globo por “manter em
torno de si homens de esquerda em cargos importantes” (citava Franklin
de Oliveira, Evandro Carlos de Andrade e Henrique Caban), inclusive
depois que o SNI ampliou a pressão contra os dois últimos, com acusações
contidas numa fita de vídeo que o dono da Globo fora convocado a
assistir em companhia de Clark e Armando Nogueira. Explicitamente,
admitia apenas que o regime “incomodava” a Globo, que enfrentou “o mesmo
gosto amargo da censura, das intimidações, das impossibilidades que
todo mundo sentiu: imprensa, rádio, televisão, as artes, a universidade,
a cultura”. Claramente na defensiva, o autor mostrava-se ressentido
com os que o culpavam – na própria Globo e mais até do que Marinho –
pela submissão ao regime militar. Mas ao passar das opiniões subjetivas
aos fatos concretos, acabava por confirmar o que pretendia desmentir: a
docilidade das tevês (em particular a sua), em parte resultante do
caráter precário das concessões de canais pelo governo, tinha uma longa
história e já o atropelara antes, na TV Rio.
Essa emissora, na qual também foi autoridade máxima (com o título
nominal de “diretor comercial”), Clark submeteu-se, sem reação, ao
assalto dos lacerdistas – liderados pelo empresário Abraham Medina,
fazendo valer a condição de patrocinador de programas – no episódio da
tomada do Forte de Copacabana, em 1964. Posteriormente, conseguiu o
prodígio de entregar-se tanto ao governo estadual como ao federal, até
mesmo depois do desafio do governador Carlos Lacerda ao presidente
Castelo Branco. Clark confessou ter retirado do ar programas de Carlos
Heitor Cony e Roberto Campos para satisfazer o coronel Gustavo Borges,
chefe de Polícia do Rio, que o chantageava com a ameaça de mudar o
horário da novela “O direito de nascer”, líder de audiência.
Da promiscuidade à cumplicidade
Não por acaso, a experiência da Globo acabaria por extremar a tendência
à acomodação, a ponto de Clark contratar um ex-diretor da censura (“o
Otati”) para “ler tudo que ia para o ar” e, pior ainda, uma “assessoria
especial” para cortejar o poder, formada pelo general Paiva Chaves,
pelo civil linha-dura Edgardo Manoel Erickson (“pelego dos milicos”,
conforme disse) e mais “uns cinco ou seis funcionários”. O episódio que
aparentemente o convenceu a ir tão longe chegava a ser cômico: um
certo coronel Lourenço, do Dentel, tinha tirado a estação do ar em
1969, convocando Clark ao Ministério da Guerra, porque Ibrahim Sued, na
esperança de agradar ao Planalto, divulgara uma intriga plantada pelo
grupo do general Jaime Portela, então na conspiração do “governo
paralelo” juntamente com dona Yolanda Costa e Silva. Ibrahim foi preso e
Clark aprendeu a lição depois de levar um pito do coronel Athos,
“homem de Sylvio Frota”.
Além da pretensa altivez de Marinho, impressionaram Clark a
“integridade”, a “honestidade” e o “patriotismo” do general Garrastazu
Médici, que depois de 1974 passara a frequentar seu gabinete na Globo
para ver futebol aos domingos. Muita gente apanhava e morria nos
cárceres da ditadura, mas para ele isso não podia, de forma alguma, ser
coisa do ditador Médici: “Tenho a impressão de que ele não se envolveu
com nenhum excesso, nenhuma violência do regime.”
De quem era, então, a responsabilidade? “Foi coisa dos caras da Segunda
Seção do Exército, do SNI, do Cenimar, do Cisa, a turma da segurança. E
era tudo na faixa de major, tenente-coronel.” Pronto a absolver os
poderosos, frequentadores de seu gabinete (até mesmo o general Ednardo
D’Ávila‚ chamado no livro de “figura agradável”), e a condenar apenas o
guarda da esquina, obscuro, Clark comete o disparate de afirmar que “a
censura e as pressões não eram feitas pelos generais”, mas por “gente
como o Augusto”, beque do Vasco que virou agente do Dops. Mas se era
assim, por que submeter-se a eles?
O autor recorreu ainda a outra desculpa para justificar o adesismo e o
ufanismo tão escancarados na ocasião pela rede dos Marinho: “A Globo
não fazia diferente dos outros.” E mais: “Se o Estadão não conseguia enfrentar o regime, se a Veja
não conseguia, como é que a Globo, sendo uma concessão do Estado,
conseguiria resistir à censura, às pressões?” O problema, para os
críticos de Clark dentro da própria emissora, é que ela, como ele,
parecia preferir aquela filosofia de que se o estupro é inevitável só
resta relaxar e aproveitar. Daí os comerciais da Aerp (Clark alega que
foram feitos para evitar uma “Voz do Brasil” na tevê, projeto de um
certo coronel Aguiar), as coberturas patrióticas de eventos militares
(Olimpíadas do Exército e o resto), as baboseiras ufanistas de Amaral
Neto. “Era o preço que pagávamos para fazer outras coisas”, alegou. Não
se deu ao trabalho de explicar que coisas eram essas. E ele mesmo
admitiu na autobiografia que o apregoado Padrão Globo de Qualidade
“acabou passando por vitrine de um regime com o qual os profissionais da
TV Globo jamais concordaram”.
 |
| Clark, numa capa da Veja em 1971. |
A Globo devia ao regime, como ficou claro no relato de Clark, até mesmo
a introdução da tevê em cores – imposta pelo ministro das
Comunicações, coronel Higino Corsetti, sabe Deus para atender a que
lobby multinacional. Mas a intimidade promíscua com o regime foi mais
longe, a ponto de compartilhar com o SNI os serviços clandestinos do
“despachante” encarregado de liberar contrabandos na Alfândega: para a
empresa, equipamentos de tevê; e para os militares da espionagem
oficial, sofisticados aparelhos de escuta ilegal. Graças a isso, Clark
podia desfrutar estranhas sessões de lazer como a conversa com um tal
general Antônio Marques, pressuroso em exibir foto tirada no escuro de
um cinema (com equipamento infravermelho) e identificar o personagem em
cena comprometedora como dom Ivo Lorsheiter, progressista odiado pela
linha dura militar.
Para Armando, “uma questão de realismo”
O autor defendeu no livro tudo o que fez para “afagar o regime”
(expressão dele) e investiu contra os que o acusavam de “puxar o saco
dos militares” (também expressão dele). Para fazer autocensura, revelou,
tinha importantes aliados internos, com destaque especial para o papel
do diretor de Jornalismo, Armando Nogueira. Por “questão de realismo”,
por exemplo, Armando e ele tomavam “muito cuidado” para não trombar
“com o regime nem com Roberto Marinho”. Mas o leitor tropeça nas
contradições da narrativa, entre elas a ambiguidade em relação ao
ex-amigo J. B. (Boni) de Oliveira Sobrinho – acusado de fazer vista
grossa quando Dias Gomes e outros enfiavam “coisas nos textos que
certamente iam dar problemas”, mas também de cumplicidade com os
militares para destruir o próprio Clark (“lá por 1976, Laís, a mulher do
Boni, foi me denunciar para o pessoal do SNI, que ela conhecia,
dizendo que eu era um toxicômano perigoso”).
 |
Amoral Nato, digo, Amaral Neto, o repórter… da ditadura.
|
Não é preciso inteligência privilegiada para perceber que o jogo de
cumplicidade com o regime confundia-se com a luta interna pelo poder
dentro da Globo, arbitrada por Marinho e envolvendo não apenas Clark e
Boni, mas também o segundo escalão: Joe Wallach, que representava o
Grupo Time Life, segundo ele mesmo; José Ulisses Alvarez Arce; e, em
especial, o diretor de Jornalismo Armando Nogueira. Esse último é
pintado no livro como incompetente, preguiçoso e traiçoeiro. Em meio à
guerra, as reuniões do conselho de direção nas manhãs de segunda-feira
tornaram-se um inferno, em generalizado clima de intriga e discórdia,
com todo mundo brigando com todo mundo. O dinheiro farto que todos
ganhavam, contou Clark, “era como veneno, especialmente nas mãos das
mulheres”. Munidas de talões de cheque, elas estrelavam “um festival de nouveau-richismo,
pretensão e falta de educação”. Acusado de consumir drogas, Clark
defendeu-se ao encarar a prática como generalizada: “A cocaína era
chique nas festas intelecto-sociais e seu consumo, bastante disseminado,
mas resolveram me transformar em drogado.”
Quando Marinho decidiu tomar “o brinquedo de volta” – ou seja,
recuperar o controle da Globo, que “tinha emprestado para uns garotos
mais moços brincarem” – uma das mãos firmemente agarradas ao tapete de
Clark, segundo o livro, foi a do ministro da Justiça, Armando Falcão,
“tipo deletério, que adorava fazer intrigas, dizer que éramos todos
comunistas, drogados, os piores elementos”. No relato aparece um Roberto
Marinho bem mais coerente na conspícua (e promíscua) aliança com o
regime do que o autor chega a reconhecer explicitamente – tanto que o
episódio no qual Clark é afinal defenestrado mistura, de forma
reveladora, a disputa pelo poder no regime militar com aquela que se
processava na Globo, escancarando as relações perigosas entre o governo e
a rede de tevê consolidada à sombra do autoritarismo.
O autor nega que o motivo de sua saída tenha sido, como se propalou na
época, seu comportamento pessoal pouco ortodoxo (em razão de excessos
alcoólicos) numa festinha com poderosos de Brasília. O livro atribuiu a
demissão à queda de braço com o regime, que exigia o expurgo na Rede
Globo da afiliada paranaense de Paulo Pimentel, político que rompera com
o antigo protetor, ministro Ney Braga, e ainda era desafeto do chefe
do SNI, general João Baptista Figueiredo, então a caminho da
Presidência. Se assim foi, faltou a Clark reconhecer ter sido demitido
na primeira vez em que de fato ousava contrariar os donos do poder. “Eu
argumentava”, escreveu ele “que o governo tinha o poder concedente dos
canais de rádio e tevê e, se quisesse atingir o Paulo [Pimentel],
que cassasse a sua concessão e enfrentasse o desgaste político”. Mas
Marinho, pragmático, pensava diferente, talvez sintonizado, naquele
sombrio ano de 1977, com o clima incerto gerado por mais uma
demonstração de força do regime, o Pacote de Abril.
 |
| Amigos, amigos, negócios à parte: James Baldwin, Wallach, Clark e Boni (em pé); Arce e Armando Nogueira (sentados). |
Até veto de música no festival da canção
Clark nem sequer notou a semelhança desse episódio com tantos outros
que marcaram a aliança promíscua da Globo com o poder – e nos quais ela
se limitara a acatar a vontade do regime. Alguns de tais episódios,
envolvendo a tevê e autoridades militares, desfilaram ao longo do livro O campeão de audiência:
o ataque do general Muricy a um documentário da CBS (para ele,
“subversivo”) sobre o Vietnã, comprado ironicamente pelo norte-americano
Wallach, do Time Life; o Jornal Nacional, no terceiro dia de sua
existência, proibido por um coronel (Manoel Tavares) do gabinete do
general Lira Tavares (membro da Junta que tomara o poder) de noticiar o
sequestro do embaixador dos EUA e a doença de Costa e Silva, os dois
principais assuntos; o aviso do general Sizeno Sarmento de que as
músicas “Caminhando” e “América, América” estavam proibidas de ganhar o
Festival Internacional da Canção; a ordem do general Orlando Geisel
para as patriotadas de Amaral Neto serem incluídas no horário nobre; a
prisão do próprio Clark pelo Dops no dia do Ato 5, por ordem do coronel
Luís França (em represália por ter ele discutido com o motorista do
militar num incidente de trânsito).
 |
| Marinho andava de braço dado com o ditador Figueiredo. |
Enfim, a especialidade da Globo era acomodar-se a cada situação. A
acomodação prevaleceu ainda no dia da queda de Clark. Ele aceitou sem
discutir o prêmio de consolação (US$2 milhões) oferecido por Marinho. E
limitou-se a encomendar o texto da carta de demissão (“em alto estilo…
literário”) ao amigo Otto Lara Resende, suficientemente versátil para
também escrever em seguida a resposta na qual o dono da Globo agradeceu
os serviços prestados pelo demissionário (quatro anos depois Otto
aceitaria também a missão de fazer o prefácio do livro O campeão de audiência).
A demissão é uma espécie de anticlímax da autobiografia, na qual o
autor assumiu compulsivamente a responsabilidade pelas iniciativas
bem-sucedidas da Globo, declarou-se adepto de programas de qualidade
(mas o salto de audiência veio com os popularescos de baixo nível, de
Raul Longras, Chacrinha, Dercy Gonçalves etc., bem na linha da atual
pornografia BBB) e atribuiu o mal feito a outros – como os que
mantiveram elevado o faturamento e a liderança absoluta de audiência nos
anos seguintes, enquanto o próprio Clark, que na Globo tinha o maior
salário do mundo (clique aqui para ler a notícia no New York Times
sobre a demissão do brasileiro com o maior salário do mundo) e
frequentava presidentes e ministros, descia ao fundo do poço, de
fracasso em fracasso (como diretor de duas tevês, logo demitido, e
produtor de dois filmes nos quais sequer se reconheceu sua contribuição,
mais um espetáculo teatral altamente deficitário).
“Em 14 anos, depois de minha saída, o que houve de realmente novo?”,
perguntou o autor naquele ano de 1991, referindo-se à Globo. Pouca
coisa, talvez. Hoje, com a perda crescente de audiência para os
concorrentes e sem os privilégios garantidos nos 20 anos de ditadura
militar, ela está condenada a conformar-se com as regras da democracia e
da competição. E passa a valer para a Globo a amarga reflexão pessoal
de Clark no livro: “Não se deve cultivar excessivamente o poder,
pendurar-se emocionalmente nele, porque um belo dia o poder acaba e o
dia seguinte é terrível.”
Argemiro Ferreira em seu blog, texto publicado em 3/4/2010
No Limpinho&Cheiroso



.jpg)





























Nenhum comentário:
Postar um comentário